vendredi, 06 septembre 2013
David Graeber: Bullshit Jobs
David Graeber: Bullshit Jobs
Ex: http://robertgraham.wordpress.com
Here is a piece by David Graeber from the online Strike magazine, which even elicited a rebuttal from that venerable organ of capitalist propaganda, The Economist. The loss of meaningful, productive work is something that both Paul Goodman and Noam Chomsky have often commented on. I included pieces by Goodman and Chomsky in Volume Two of Anarchism: A Documentary History of Libertarian Ideas and by Chomsky and Graeber in Volume Three: The New Anarchism (1974-2012).
On the Phenomenon of Bullshit Jobs
In the year 1930, John Maynard Keynes predicted that, by century’s end, technology would have advanced sufficiently that countries like Great Britain or the United States would have achieved a 15-hour work week. There’s every reason to believe he was right. In technological terms, we are quite capable of this. And yet it didn’t happen. Instead, technology has been marshaled, if anything, to figure out ways to make us all work more. In order to achieve this, jobs have had to be created that are, effectively, pointless. Huge swathes of people, in Europe and North America in particular, spend their entire working lives performing tasks they secretly believe do not really need to be performed. The moral and spiritual damage that comes from this situation is profound. It is a scar across our collective soul. Yet virtually no one talks about it.
Why did Keynes’ promised utopia – still being eagerly awaited in the ‘60s – never materialize? The standard line today is that he didn’t figure in the massive increase in consumerism. Given the choice between less hours and more toys and pleasures, we’ve collectively chosen the latter. This presents a nice morality tale, but even a moment’s reflection shows it can’t really be true. Yes, we have witnessed the creation of an endless variety of new jobs and industries since the ‘20s, but very few have anything to do with the production and distribution of sushi, iPhones, or fancy sneakers.
So what are these new jobs, precisely? A recent report comparing employment in the US between 1910 and 2000 gives us a clear picture (and I note, one pretty much exactly echoed in the UK). Over the course of the last century, the number of workers employed as domestic servants, in industry, and in the farm sector has collapsed dramatically. At the same time, “professional, managerial, clerical, sales, and service workers” tripled, growing “from one-quarter to three-quarters of total employment.” In other words, productive jobs have, just as predicted, been largely automated away (even if you count industrial workers globally, including the toiling masses in India and China, such workers are still not nearly so large a percentage of the world population as they used to be).
But rather than allowing a massive reduction of working hours to free the world’s population to pursue their own projects, pleasures, visions, and ideas, we have seen the ballooning not even so much of the “service” sector as of the administrative sector, up to and including the creation of whole new industries like financial services or telemarketing, or the unprecedented expansion of sectors like corporate law, academic and health administration, human resources, and public relations. And these numbers do not even reflect on all those people whose job is to provide administrative, technical, or security support for these industries, or for that matter the whole host of ancillary industries (dog-washers, all-night pizza deliverymen) that only exist because everyone else is spending so much of their time working in all the other ones.
These are what I propose to call “bullshit jobs.”
It’s as if someone were out there making up pointless jobs just for the sake of keeping us all working. And here, precisely, lies the mystery. In capitalism, this is precisely what is not supposed to happen. Sure, in the old inefficient socialist states like the Soviet Union, where employment was considered both a right and a sacred duty, the system made up as many jobs as they had to (this is why in Soviet department stores it took three clerks to sell a piece of meat). But, of course, this is the sort of very problem market competition is supposed to fix. According to economic theory, at least, the last thing a profit-seeking firm is going to do is shell out money to workers they don’t really need to employ. Still, somehow, it happens.
While corporations may engage in ruthless downsizing, the layoffs and speed-ups invariably fall on that class of people who are actually making, moving, fixing and maintaining things; through some strange alchemy no one can quite explain, the number of salaried paper-pushers ultimately seems to expand, and more and more employees find themselves, not unlike Soviet workers actually, working 40 or even 50 hour weeks on paper, but effectively working 15 hours just as Keynes predicted, since the rest of their time is spent organizing or attending motivational seminars, updating their facebook profiles or downloading TV box-sets.
The answer clearly isn’t economic: it’s moral and political. The ruling class has figured out that a happy and productive population with free time on their hands is a mortal danger (think of what started to happen when this even began to be approximated in the ‘60s). And, on the other hand, the feeling that work is a moral value in itself, and that anyone not willing to submit themselves to some kind of intense work discipline for most of their waking hours deserves nothing, is extraordinarily convenient for them.
Once, when contemplating the apparently endless growth of administrative responsibilities in British academic departments, I came up with one possible vision of hell. Hell is a collection of individuals who are spending the bulk of their time working on a task they don’t like and are not especially good at. Say they were hired because they were excellent cabinet-makers, and then discover they are expected to spend a great deal of their time frying fish. Neither does the task really need to be done – at least, there’s only a very limited number of fish that need to be fried. Yet somehow, they all become so obsessed with resentment at the thought that some of their co-workers might be spending more time making cabinets, and not doing their fair share of the fish-frying responsibilities, that before long there’s endless piles of useless badly cooked fish piling up all over the workshop and it’s all that anyone really does.
I think this is actually a pretty accurate description of the moral dynamics of our own economy.
Now, I realise any such argument is going to run into immediate objections: “who are you to say what jobs are really ‘necessary’? What’s necessary anyway? You’re an anthropology professor, what’s the ‘need’ for that?” (And indeed a lot of tabloid readers would take the existence of my job as the very definition of wasteful social expenditure.) And on one level, this is obviously true. There can be no objective measure of social value.
I would not presume to tell someone who is convinced they are making a meaningful contribution to the world that, really, they are not. But what about those people who are themselves convinced their jobs are meaningless? Not long ago I got back in touch with a school friend who I hadn’t seen since I was 12. I was amazed to discover that in the interim, he had become first a poet, then the front man in an indie rock band. I’d heard some of his songs on the radio having no idea the singer was someone I actually knew. He was obviously brilliant, innovative, and his work had unquestionably brightened and improved the lives of people all over the world. Yet, after a couple of unsuccessful albums, he’d lost his contract, and plagued with debts and a newborn daughter, ended up, as he put it, “taking the default choice of so many directionless folk: law school.” Now he’s a corporate lawyer working in a prominent New York firm. He was the first to admit that his job was utterly meaningless, contributed nothing to the world, and, in his own estimation, should not really exist.
There’s a lot of questions one could ask here, starting with, what does it say about our society that it seems to generate an extremely limited demand for talented poet-musicians, but an apparently infinite demand for specialists in corporate law? (Answer: if 1% of the population controls most of the disposable wealth, what we call “the market” reflects what they think is useful or important, not anybody else.) But even more, it shows that most people in these jobs are ultimately aware of it. In fact, I’m not sure I’ve ever met a corporate lawyer who didn’t think their job was bullshit. The same goes for almost all the new industries outlined above. There is a whole class of salaried professionals that, should you meet them at parties and admit that you do something that might be considered interesting (an anthropologist, for example), will want to avoid even discussing their line of work entirely. Give them a few drinks, and they will launch into tirades about how pointless and stupid their job really is.
This is a profound psychological violence here. How can one even begin to speak of dignity in labour when one secretly feels one’s job should not exist? How can it not create a sense of deep rage and resentment. Yet it is the peculiar genius of our society that its rulers have figured out a way, as in the case of the fish-fryers, to ensure that rage is directed precisely against those who actually do get to do meaningful work. For instance: in our society, there seems a general rule that, the more obviously one’s work benefits other people, the less one is likely to be paid for it. Again, an objective measure is hard to find, but one easy way to get a sense is to ask: what would happen were this entire class of people to simply disappear? Say what you like about nurses, garbage collectors, or mechanics, it’s obvious that were they to vanish in a puff of smoke, the results would be immediate and catastrophic. A world without teachers or dock-workers would soon be in trouble, and even one without science fiction writers or ska musicians would clearly be a lesser place. It’s not entirely clear how humanity would suffer were all private equity CEOs, lobbyists, PR researchers, actuaries, telemarketers, bailiffs or legal consultants to similarly vanish. (Many suspect it might markedly improve.) Yet apart from a handful of well-touted exceptions (doctors), the rule holds surprisingly well.
Even more perverse, there seems to be a broad sense that this is the way things should be. This is one of the secret strengths of right-wing populism. You can see it when tabloids whip up resentment against tube workers for paralyzing London during contract disputes: the very fact that tube workers can paralyze London shows that their work is actually necessary, but this seems to be precisely what annoys people. It’s even clearer in the US, where Republicans have had remarkable success mobilizing resentment against school teachers, or auto workers (and not, significantly, against the school administrators or auto industry managers who actually cause the problems) for their supposedly bloated wages and benefits. It’s as if they are being told “but you get to teach children! Or make cars! You get to have real jobs! And on top of that you have the nerve to also expect middle-class pensions and health care?”
If someone had designed a work regime perfectly suited to maintaining the power of finance capital, it’s hard to see how they could have done a better job. Real, productive workers are relentlessly squeezed and exploited. The remainder are divided between a terrorized stratum of the, universally reviled, unemployed and a larger stratum who are basically paid to do nothing, in positions designed to make them identify with the perspectives and sensibilities of the ruling class (managers, administrators, etc) – and particularly its financial avatars – but, at the same time, foster a simmering resentment against anyone whose work has clear and undeniable social value. Clearly, the system was never consciously designed. It emerged from almost a century of trial and error. But it is the only explanation for why, despite our technological capacities, we are not all working 3-4 hour days.
David Graeber
00:05 Publié dans Actualité, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bullshit jobs, jobs à la con, david graeber, sociologie, ergonomie, travail |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 24 novembre 2010
O trabalho na era da informàtica - Trabalho total e declive do salàrio
 A condição de assalariado, que é hoje o destino de quase todos os trabalhadores, nos anos cinqüenta apenas concernia a 60% da população ativa. Foi durante os três decênios seguintes à Segunda Guerra Mundial quando começou a generalizar-se. Naquela época descansava sobre dois pilares. Primeiro, um salário direto e crescente, fruto de uma economia estimulada pelo produtivismo fordista e o consumismo importado dos Estados Unidos. Depois, um salário indireto assegurado pelo Estado keynesiano, dispensador de seguridade social, a qual incitava os indivíduos a comportarem-se no mercado como trabalhadores e consumidores "livres", quer dizer desligados das solidariedades tradicionais. Êxodo rural, crescimento urbano, deslocamento das comunidades: este foi o preço que se teve que pagar pela americanização do modo de vida que caracterizou os Trinta Gloriosos, como denominou a estes anos Jean Fourastié.
A condição de assalariado, que é hoje o destino de quase todos os trabalhadores, nos anos cinqüenta apenas concernia a 60% da população ativa. Foi durante os três decênios seguintes à Segunda Guerra Mundial quando começou a generalizar-se. Naquela época descansava sobre dois pilares. Primeiro, um salário direto e crescente, fruto de uma economia estimulada pelo produtivismo fordista e o consumismo importado dos Estados Unidos. Depois, um salário indireto assegurado pelo Estado keynesiano, dispensador de seguridade social, a qual incitava os indivíduos a comportarem-se no mercado como trabalhadores e consumidores "livres", quer dizer desligados das solidariedades tradicionais. Êxodo rural, crescimento urbano, deslocamento das comunidades: este foi o preço que se teve que pagar pela americanização do modo de vida que caracterizou os Trinta Gloriosos, como denominou a estes anos Jean Fourastié.Sem embargo, ao final dos anos 60 este regime começa a desinflar-se. Os protestos em cadeia por trabalho e as reivindicações para "viver e trabalhar no próprio país" provocaram uma primeira redução dos benefícios por produtividade. Acima de tudo, a abertura ao mercado internacional, impulsionada pelo Tratado de Roma, rompeu aquele círculo virtuoso do crescimento que até então havia descansado sobre economias relativamente fechadas. A partir desse momento, as exportações massivas permitirão aglutinar benefícios sem que para isso seja necessário aumentar os rendimentos do dinheiro, enquanto que a busca de economias de escala aumentará a fragilidade de algumas empresas que se defendiam desde fortificações cada vez mais estreitas: havia nascido a "coação exterior". E por todas as partes se começaram a explorar caminhos semelhantes para diminuir as "rigidezes" do mercado: diminuição do salário direto e abandono parcial da planificação, lenta destruição do salário indireto, acentuação do dever de mobilidade dos trabalhadores em prejuízo de seu "direito ao trabalho".
Nesse contexto começou a febril busca de um modelo produtivo capaz de suceder ao fordismo. De fato, desde aproximadamente quinze anos começaram a desenhar-se diversas alternativas. As novas formas de organização do trabalho se inspiram em modelos americanos (neo-tayloriano, californiano ou saturniano), escandinavos (grupos polivalentes, rotações de posto, equipes semi-autônomas) ou japoneses (principalmente o toyotismo). Todos apelam às novas tecnologias para encontrar uma saída para a crise do fordismo. Isso, por outra parte, não implica que as reorganizações em curso caiam no determinismo técnico: as mesmas tendências pesadas se declinam em estruturas de organização muito diversificadas. Porém, em quê medida constituem estas o protótipo da sociedade industrial avançada? O quê significa aprofundar no que se chama "racionalidade"? Por quê a figura do trabalhador assalariado está destinada a entrar em decadência? E antes de tudo, quais são os traços que caracterizam à empresa pós-fordista?
Tendências do pós-fordismo
O primeiro aspecto comum às novas fórmulas produtivas é que o conteúdo de uma tarefa está cada vez menos determinado pela atividade profissional e cada vez mais pela tecnologia secundária utilizada para intermediar a relação com o produto. Esta informatização - pois disso se trata - guarda claras consequências. Primeiro, ao substituir a percepção pelo dado e a manipulação pelo programa, reduz toda atividade a uma combinação de funções (geralmente com ajuda de "menús" colocados na tela). O que os especialistas chamam desrealização pode então trazer efeitos perversos, como a fabricação cega de peças defeituosas, ainda que tecnicamente perfeitas e portanto dificilmente detectáveis, ou a erosão da vigilância e a desresponsabilização que exemplificam os cracks que periodicamente provocam alguns banqueiros investidos de poderes exorbitantes. Uma tendência que a "realidade virtual" e o "ciberespaço" acentuarão, verossimilmente, ao apagar ainda mais a fronteira entre realidade tangível e simulação.
O trabalho se desmaterializa: "Ao final da jornada, o operador (...) não fez nada. Porém esse nada o esgotou: durante seu dia (ou noite) de trabalho, se impôs essa ascese que é a repressão em si mesmo de sua existência sensível". De modo que esse processo generalizado de abstração se vive antes de tudo como violência contra o corpo. E se estende à experiência acumulada pelo trabalhador com o passar do tempo. Pois a informática já não repousa somente em algoritmos; com a inteligência artificial e os sistemas avançados, encapsula também as heurísticas, quer dizer, as lógicas que subjazem às habilidades práticas. A ampliação do campo da sistematização formal chega hoje a um campo que o fordismo se havia obstinado em ignorar: o saber fazer dos executantes.
Uma segunda propriedade das novas fórumas produtivas concerne às modificações na coordenação da ação. É verdade que o crescimento da complexidade, o peso da incerteza e a brevidade dos prazos constituem outros tantos obstáculos para a planificação, porém, para dar apenas este exemplo, a proliferação de avarias que inevitavelmente afetam a aparatos fortemente integrados engloba a necessidade de coordenar competências à margem de qualquer esquema centralizado. Esta "desprescrição" das tarefas exige dos agentes um compromisso mútuo para prestar quando seja preciso a intervenção requerida. Este acordo obrigado se presta por sua vez a que os intercâmbios recíprocos fiquem racionalizados sob forma de contrato. Aqui as mensagens telefônicas proporcionam a ferramente sonhada. Por uma parte, pode memorizar automaticamente os convênios entre os interlocutores: "Utilizando as facilidades das mensagens de áudio - se lê em uma circular destinada aos diretores - nenhum sócio poderá dizer que não recebeu uma mensagem". Por outra, permite expurgar o discurso, por exemplo "anulando a primeira seqüência de uma comunicação onde os interlocutores tomam contato falando de tudo e de nada, do tempo, da saúde ou da família". As comunicações se transmutam assim em proposições depuradas, como se estivesse preenchendo uma espécie de formulário oral padronizado. Para codificar as interações verbais entre os membros de uma mesma equipe se recorre às filosofias da linguagem - em particular anglo-saxãs - baseadas no registro do performativo. Tais filosofias inpiram lógicas consagradas à análise das conversações e ao registro das promessas (commitments) que contraem as partes.
Toda essa importância que se dá à pragmática é um traço distintivo do pós-fordismo. A extensão do diálogo interativo homem/máquina requer, em efeito, um protocolo onde não fique ambigüidade alguma: a língua natural se vê assim obrigada a dobrar-se perante códigos sintéticos que até agora lhe estavam submetidos. Radical inversão que cumpre a profecia de Heidegger, pois agora "são as possibilidades técnicas da máquina que prescrevem como a língua pode e deve ainda ser língua". Tal seria o último e mais ladino desafio lançado pela modernidade: "Se, indo no sentido da dominação da técnica que a tudo determina, tomamos a informação como a forma mais alta da linguagem por causa de sua univocidade, de sua segurança e de sua rapidez na comunicação de informações e de diretivas, então resultará disso a correspondente concepção do ser-homem e da vida humana". É assim como o pensamento fica subjugado pelo instrumento com o que pretendia dar forma ao mundo: "A capacidade para conceber máquinas termina concebendo-se a si mesma como máquina; o espírito, capaz já de funcionar como uma máquina, se reconhece na máquina que é capaz de funcionar como ele - sem advertir que em verdade a máquina não funciona como o espírito, mas sim tão somente como o espírito que aprendeu a funcionar como uma máquina".
Uma terceira faceta do pós-fordismo reside na recomposição de tarefas, provocada pela disjunção de homem e máquina. Enquanto a automatização clássica atava o operador ao seu posto, a rapidez dos automatismos desconecta hoje o agente de sua ferramenta, favorecendo sua relocalização em funções de vigilância, de verificação e de manutenção. "A partir do momento em que estas máquinas são programáveis à vontade, a partir do momento em que são alimentadas automaticamente e dotadas de dispositivos que permitem mudar seu uso- todos esses truques que tendem para o trabalho flexível - o tempo de trabalho dos operadores já não está determinado pelo ciclo da máquina. Enquanto a máquina funciona os operadores podem fazer outra coisa, controlar a qualidade das peças já fabricadas, cuidar da manutenção das equipes ou antecipar-se às avarias".
Ao esfumar as fronteiras entre as diversas qualificações, esta polivalência acentua a substitutibilidade do pessoal e deslegitima as qualificações. O desaparecimento dos ofícios dissolve a identidade do trabalhador nas figuras genéricas do operador de instalação automatizada ou do técnico de oficina. A fadiga física dá lugar ao stress, ao isolamento perante a máquina, ao sentimento de decomposição. O estar em todas as partes ao mesmo tempo, como um bip, constantemente disponível, engrendra um estranho esgotamento: "Eu? Eu sou mais que flexível, sou completamente flácido, sou líquido", explica um trabalhador da Peugeot. A renovação contínua dos procedimentos, estimulada pela acelerada obsolescência dos produtos e das técnicas, mantém a precariedade. As pressões acumuladas em nome da eficácia se exercem em detrimento da consciência e do orgulho profissionais.
"Não se pode parar o progresso!". Esta sensação de inevitabilidade faz com que a técnica apareça como uma implacável potência alheia ao homem. A técnica sufoca toda resistência à mudança e alimenta um individualismo conformista, pois se a orientação do desenvolvimento não sofre nenhuma inflexão, não sobre remédio além de acomodar-se o melhor possível nas estruturas existentes - impotência que debilita o valor da experiência e do juízo como princípios de ação". Sem embargo, todos parecem de acordo em subordinar a eficiência da organização à existência de "relações sociais mobilizadoras". O consentimento passivo dos empregados não basta; há que lograr sua adesão. Por isso a missão do novo gestor se transforma em trabalho de convicção: trata-se de "fabricar o consenso" em torno à "utopia mobilizadora do mito racional". E é garantido que, ao não haver alternativa, o inevitável termina convertendo-se no desejável ao se impôr como a única opção possível, a única que é possível pensar.
Os assalariados, intercambiáveis no seio da empresa, se vêem também empurrados à mobilidade no mercado de trabalho. "Assim que se põem a perseguir o trabalho: ali onde haja trabalho, para lá se deslocam. Voltam a ser como nômades". Com a diferença de que o nômade autêntico nunca se deslocava sem sua comunidade. Exílio do corpo, desvanecimento dos sentidos, obliteração do espírito: o trabalhador do pós-fordismo é antes de tudo um indivíduo "vazio". "Um trabalhador que trabalhe em uma máquina-útil com comandos numéricos - observa Jean Chesneaux - está 'usado' muito antes que um lenhador que trabalhava sem problemas até os 65, a seu ritmo e com suas mãos".
Nos três planos que constituem toda cultura: a relação com o mundo, a relação com os outros e a relação do homem consigo mesmo, o pós-fordismo se caracteriza, pois, por um conjunto de traços interrelacionados: uma subjetividade maleável, sempre disposta a qualquer projeto imprevisível; uma socialidade transacional moldada pelo modelo do contrato; uma onipotência da técnica que consagra a preeminência do computador.
Da racionalidade comunicacional
Pelo papel que joga na esfera produtiva, a informática imprime sua pegada no regime da racionalidade. Na fábrica ou no escritório, tanto como na vida quotidiana, numerosas atividades já percebidas como essencialmente cognitivas estão em vias de informatização: desde o tratamento de textos até a composição gráfica, desde o pagamento automático até o diagnóstico médico. O computador é hoje a máquina universal. Assim como o cavalo-vapor inspirou uma concepção energética do mundo, as disciplinas cientificas reformulam hoje seus objetos em termos de tratamento da informação. Os fenômenos físicos, os organismos vivos, os sistemas sociais e até a psiquê se percebem e definem como campos "entapetados por redes e processadores". O poder inaugural do verbo, sob o qual se abrigavam antanho as representações coletivas, é hoje substituído pela capacidade resolutiva da operação, o qual cimenta o poder da tecnocracia. A inquietude por interpretar o universo deixa lugar para uma perspectiva de dominação. A busca do sentido, fundadora de toda cultura, parece desvanecer-se na fascinação pela máquina. "Ocidente - escreve Pierre Levy - calcula cos mitos das outras culturas e os seus próprios". Efetivamente. Por acaso Levy-Strauss não propunha, em 'A Antropologia Estrutural', "recorrer às fichar perfuradas e à mecanografia" para elucidar o funcionamento do pensamento mítico? Assim terminaria a História: amodorrada no aperfeiçoamento indefinido da técnica.
Sem embargo, ainda que os logros tecnológicos explodam, a ciência progrediu pouco desde vinte anos para cá. E a ascenção da informática não é sem dúvida alheio a este estancamento: por exemplo, quando permite o desenvolvimento de métodos estatísticos (como a análise fatorial de correspondências) que nos evitam ter que seguir formulando hipóteses sobre as relações estudadas. A ciência moderna, sustenta René thom, "no ponto em que se encontra, é uma torrente de insignificância propriamente dita". Quer se trate de física estatística ou de segmentação do mercado, os modelos não nos proporcionam chaves de inteligibilidade, mas simplesmente correlações.
Na ausência de garantias objetivas que assegurem a adequação das teorias aos fatos, a verdade somente se remete à opinião dominante, o quê conduz a nos perguntarmos como esta se formou. "A própria ciência - sublinha Feyerabend - serve-se do método escrutínio-discussão-voto, ainda que não tenha apreendido claramente seu mecanismo e ainda que o use com uma parcialidade muito marcada". A atenção se desloca então para o procedimento empregado para organizar o debate e extrair uma conclusão. René Guénon denunciava esta deriva estigmatizando a forma como "alguns filósofos modernos têm desejado transportar para a ordem intelectual a teoria 'democrática' que faz prevalecer o juízo da maioria, fazendo do que chamam de 'consentimento universal' um pretendido 'critério de verdade'". Tal é precisamente o projeto de um Jürgen Habermas: em efeito, o teórico da ação comunicativa se esforça por dar à verdade uma fundação supostamente democrática reformulando-a como verificação, quer dizer como processo mediante o qual os argumentos se intercambiam sob a presunção, supostamente inscrita na estrutura mesma da linguagem, de que poderá triunfar um acordo unânime. O livre câmbio argumentativo e o veredito majoritário se convertem assim nos pilares de um neo-positivismo.
Coincide ao menos a aparição de tal epistemologia com o desenvolvimento de vastas infra-estruturas comunicacionais para favorecer a discussão argumentada? Ainda que as publicações científicas sigam sendo um poderoso motor das carreiras universitárias, a verdade é que, em geral, decrescem proporcionalmente o aumento dos investimentos financeiros. Nos setores de ponta como a informática, as telecomunicações, a supercondutividade ou as biotecnologias, os resultados das investigações coparticipadas por formas privadas e programas governamentais sofrem retenções sistemáticas. As telecomunicações favorecem a aparição de redes privadas que consagram alianças entre sócios dispersos em laboratórios do mundo inteiro: cada um deles elabora normas específicas em matéria de propriedade intelectual e industrial, de maneira que um inextricável bosque jurídico protege a valoração comercial das descobertas: "O conhecimento científico é cada vez menos um bem público acessível a todos, e cada vez mais um capital precioso que há que proteger e fazer frutificar tão discretamente como seja possível".
Em princípio, quanto mais irrefutável seja em razão de um conteúdo, mais necessária deveria ser sua exibição. Porém, hoje, quanto maior é a carga argumentativa incorporada em qualquer terreno, mais estrito é o controle que sobre ele exerce o aparatdo. E assim, tanto os freios para a livre circulação da argumentação científica como a difusão massiva de mercadorias espetaculares contribuem para alimentar esquemas de pensamento muito pouco racionais. A modernização não significa tanto a expansão da racionalidade como a extensão, mais sistemática, de um modo de dominação.
Trabalho total e homem novo
Esta dominação adota o veículo da técnica, cujos princípios fundamentais, à força de infiltrar-se nos costumes quotidianos, terminam por se impôr como modelos. Porém enquanto que o produtivismo fordista organizava a exploração do homem e da natureza, o pós-industrialismo tenta reconstruir (com benefícios) o entorno, a socialidade e a subjetividade sobre uma base eminentemente técnica. Esta reconstrução do mundo germina nos modelos produtivos do pós-fordismo; por isso não é surpreendente ver como suas tendências atuam na sociedade global: "A acumulação de capital e a acumulação de saber - que hoje serve mais ainda que ontem de relevo para a primeira - somente se produzem em um pólo exterior ao próprio trabalhador, a partir de racionaldiades produtivistas e economicistas que ele não pode dominar e que o dominam, incluída sua vida fora do trabalho".
Este desaparecimento progressivo da distinção vida no trabalho/vida fora do trabalho, característica da sociedade pós-industrial, é parcialmente imputável ao polimorfismo do computador, que substitui as antigas e múltiplas relações dos homens com suas atividades por uma tecnologia padronizada: "Na sociedade digital, as mesmas telas e painéis, a mesma modelização, a mesma linguagem codificada, os mesmos procedimentos mentais permitem "gerir" atividades que até agora não tinham nada a ver entre si: o trabalho na fábrica ou no escritório, os jogos em família, o seguimento da economia mundial, a gestão dos serviços públicos, a criação musical, as contas domésticas, a especulação financeira... A informática homogeneiza e normaliza o campo social". A sistematização da vida corrói assim fragmentos inteiros da socialidade, substituindo a experiência das relações interpessoais por rotinas mecânicas - os rituais sociais deixam lugar aos protocolos técnicos - e vem acompanhada pelo darwinismo econômico (somente merecem "sobreviver" os espécimens mais inovadores), a segregação informacional (seleção dos indivíduos mais ricos em dados) e a discriminação social (desqualificação dos que se subtraem destes imperativos). Em definitiva, o integrismo modernista passa pela purificação técnica ("uma nova raça de empresários", de usuários, de clientes, etc): "A universalização da relação social anunciada pelas filosofias da história é já um fato consumado: não há mais que um único espaço das técnicas e da política, da comunicação e das relações de poder. Porém esta universalização não é nenhuma humanização nem uma racionalização: coincide com exclusões e cisões mais violentas que as de antes".
Sherry Turkle mostrou como, mais além dessa reformulação empírica, a informática se converte também em pedra angular de um tecnopopulismo segundo o qual será possível mudar a sociedade sem modificar as relações sociais. Por acaso já não nos apresentaram os computadores como uma "arma de guerrilha na batalha da democratização" sob pretexto de que estão descentralizados e são baratos? Dez anos depois, nos foi dito que o departamento americano de Defesa havia encomendado 300.000 computadores. Desde Servan-Schreiber até Lokjine, de Toffler a Guattari, transita a mesma convicção de que a reapropriação do saber passará pela utilização de novas tecnologias que poram em si a transversalidade. Hoje o ciberespaço se recicla em "projeto democrático", enquanto as autoestradas da informação nos são apresentadas como o próximo "vetor do laço social". Essa mesma utopia da "aldeia global" justifica também a DAO (delinqüencia assistida por computadores): "Os ciberpunks querem esmigalhar o poder redistribuindo informações confidenciais, como os documentos do Estado e das empresas transnacionais. Os mais radicais, os ciberterroristas, sonham com (...) paralizar o conjunto do sistema bancário mediante um 'motim eletrônico'".
Enquanto núcleo paradigmático, a informática reformula a relação com o mundo através da afirmação de que "tudo é processável" - e, portanto, reprodutível mecanicamente. Entre tanto alvoroço, alguns propõrem inclusive reprensar as culturas em termos de logicidade, quer dizer de "sistema operacional de tratamento da informação". Ao dar crédito à idéia de que o "jogo concretiza processos e organiza melhor o campo social que os fundamentos absolutos", esta tese concorre na decadência do sentido comum, quer dizer uma normatividade ancorada em um horizonte compartilhado, e mantém a ilusão de que é possível reconstruir o laço social sobre uma base técnica. (É a esse reformismo por baixo que se opõe a via metapolítica).
A corrente de análise estratégica animada por Michel Crozier, que preconiza pôr-se de acordo sobre as práticas fora de qualquer debate acerca das finalidades, se inscreve na mesma perspectiva. Similarmente, Alain Touraine quer romper com uma sociologia dos valores suspeita de legitimar os "garantidores metassociais". E, assim, define a sociedade pós-industrial por sua aptidão para a auto-transformação, a qual se mede segundo a capacidade de mobilização de atores exclusivamente articulados em torno à ação. Desgraçadamente, o antagonismo entre a tecnocracia e os "movimentos sociais", que deveria imprimir uma direção ao desenvolvimento, se esgotou já na oposição estéril entre organismos estatais ou supra-estatais aderidos aos grupos de pressão e a ONGs reduzidas ao simples protesto. Enquanto às instituições políticas, já se ouve seus representantes "falarem de 'engenharia democrática' e remeterem cada vez mais competências aos juristas, os advogados, os cientistas", em uma palavra, aos especialistas. Agora bem, quanto mais se tecnifica a democracia, menos apta será para fundar uma cultura autêntica. Ao pretender basear-se em "princípios abstratos, condição necessária de uma cidadania desgarrada das origens e das pertenças étnicas ou culturais", abre mais uma espécie de axiomática do vazio que pressupõe a existência de indivíduos purgados de sua interioridade - e por isso dispostos a serem industrialmente informados. Agora que as mídias eletrônicas conquistam um lugar cada vez mais preponderante, aumentam as possibilidades de ver "como os pais e os avós são substituídos, como moldes para a reconstrução, por celebridades e outros modelos condicionados, saídos diretamente dessas mídias". A longo prazo, as biotecnologias deixam entrever a oportunidade de "liberar-se das cadeias do passado e dos códigos genéticos hereditários". Uma produção midiática de álibis identitários: tal é o beco sem saída em que desemboca a ilusão de uma cidadania refundada sobre a pura intelecção, quando se conjuga com os milagres da técnica.
Porém, para dizer a verdade, é o edifício social inteiro que se encontra afundado no nível das organizações. E quanto mais invade o econômico as relações sociais, mais ficam estas situadas sob o signo do contrato: a educação parece não se conceber já sem "contratos pedagógicos", a integração social sem "contratos de inserção", etc.
Os Estados Unidos são o exemplo mais acabado dessa involução. Quando a democracia se confunde com a arquitetônica do Direito, o laço social se reabsorve como contrato. Por essa via, em uma paisagem social intrínsecamente congelado, os grupos que se afirmam desfavorecidos (mulheres, homossexuais, negros e outras minorias étnicas) se esforçam em modificar o statu quo. Em um país em que prosperam 40% dos juristas do planeta, a hipertrofia procedimental vem acompanhada pela erosão da moral e da responsabilidade e pelo declive da convivência. O amor se gere como um negócio entre outros, e é em qualidade de sujeitos de direito como os cônjuges chegam à alcova onde devem cumprir seus compromisos mediante as prestações correspondentes. Tudo quanto por excesso ou por defeito - desfalecimento sexual, galanteios desconsiderados - turbe a execução do contrato, se expõe a uma sanção penal. Daí esses regramentos universitários que dispõem que cada etapa de uma relação física ou amorosa entre entre estudantes deve previamente ter sido objeto de consentimento oral explícito. Os libertarians, advogados do proxenetismo, do trabalho infantil e da falsificação da moeda, não fazem nada a não ser radicalizar essa postura segundo a qual não há maior legalidade que o consentimento mútuo. O qual engorda a litigation society - quer dizer, a guerra de todos contra todos.
Em uma sociedade que "funciona sobre bases puramente contratuais e utilitárias - escreve Julius Evola - exigir que um dos agentes se sacrifique muito ou pouco por interesse comum e, mais ainda, pelo interesse de outro agente, pareceria um puro absurdo, porquê o conjunto, o elemento comum, tem por fundamento e por única razão suficiente o interesse utilitário do indivíduo". Morre, pois, a solidariedade. Evidentemente, quanto mais se distendem os laços orgânicos, mais se estende a colonização jurídica de terrenos espontaneamente estruturados pela compreensão mútua, em particular a família e a escola. A ingerência estatal nos conflitos que aí aparecem - pela via das intervenções judiciais e de suas prolongações psicoterapêuticas - tem por primeiro efeito o coisificar os agentes submetendo-os a regras formais, de sorte que o objetivo inicial da integração social se converte em desintegração dos contextos de ação. Irônicamente, o herdeiro da Escola de Frankfurt compartilha aqui dos temores de Thomas Molnar, para quem a ideologia liberal havia terminado por despedaçar a família. Esta, sublinha Molnar, "é um grupo natural e não uma organização signatária do contrato social. Porém a tendência atual é reduzi-la a isso, e na direção desse objetivo se dirigem as disposições legais".
Tal quadriculamento do mundo vivo pelo sistema de racionalização dominante supõe um trabalho constante sobre o indivíduo. Daí a necessidade de apresentar a este como um substrato perfeitamente plástico. Com essa finalidade se emprega Jean-Marc Ferry, avançando o conceito de identidade reconstrutiva: os sujeitos se inclinariam a remodelar-se tomando dos diversos discursos culturais aos quais estão expostos os sintagmas mais próximos aos princípios universais da moral e do direito, sem que se saiba, sem embargo, em virtude de quais critérios poderiam exercer corretamente seu juízo, salvo aqueles critérios originais que ainda conservem em seu fundo. As culturas dos povos são assim apresentadas como agregados modeláveis à vontade, cujos fragmentos, judiciosamente recombinados, comporiam um fruto mais elevado - fiel transposição da maneira em que Taylor empreendeu a reorganização "científica" da fábrica a partir de procedimentos já existentes, porém considerados demasiado pouco racionais. Os sujeitos, reduzidos a suas competências cognitivas, são assim assimilados a mecanismos "complexos de processamento de informação, que produzem informação nova, destróem a informação antiga e acima de tudo transformam a que recebem."
Naturalmente, tal postura não carece de intenções ocultas, pois em realidade as respectivas argumentações sempre jogam um papel menor no que concerne a relação das forças em presença - começando pela capacidade da cultura hegemônica (a técnica) para impor a abstração teórica como indicador do grau de humanização. "A regra se transforma em astúcia, o bem se converte em monstruosidade e o povo fica perplexo", versificava Lao-Tsé. Tal perplexidade deve ser vencida, e por isso o trabalho consiste desde agora, em boa medida, em romper as resistências psicológicas e sociais. Eurodisney, o túnel sob o Canal da Mancha, as autoestradas da informação...os exemplos de technology push abundam, e em todos eles a propaganda se afirma como um componente intrínseco da modernização. Hoje não se poderia produzir a demanda sem a colusão dos poderes públicos e dos trusts, que cavalgam sobre sutis estratégias de gabinetes especializados para superar a indiferença, dissolver as reticências e persuadir os futuros usuários. Apesar desses esforços, as investigações mostram que o mais determinante à hora de aceitar as tecnologias segue sendo o temor ao desemprego e ao rebaixamento social. "Onde tudo já foi vencido, só resta convencer", exclamava Raoul Vaneigem. Porém bastará a pedagogia para impôr durante muito mais tempo ainda os quadros tecnológicos dominantes?
Papel emblemático do computador em um universo reduzido a processos, contratualização do laço social compreendido como um mercado de transações, indivíduos remodeláveis à vontade: a sociedade pós-industrial é amplamente homotética com a empresa pós-fordista. E é nesse contexto em que se opera o trabalho indefinido de reconstrução integral do mundo.
Reconstrução e declive do salários
A modernização transforma a sociedade em uma empresa geral de reconstrução que mobiliza todos os recursos - materiais, sociais, psíquicos - e que se estende a todos os setores. Ao meio de vida: enquanto que na ecologia tradicional dos poetas, a exemplo de Virgílio, mantinham o amor pela natureza assimilando-a a uma paisagem da alma, o ecossistemista pretende regular a relação com o entorno com a ajuda de punções fiscais e de programas tecnocráticos. À socialidade: as funções de subsistência e de regeneração do tecido social, que não faz tanto tempo eram assumidas pelas comunidades locais (em particular rurais), são hoje monetarizadas pelo capitalismo e regulamentadas pelo Estado - preocupado este por reforçar seu poder, aquele por estender seus mercados. Ao indivíduo: quer se trate do rebuilding psíquico ou do lifting identitário (em três fases: determine o quê você quer ser, elabore um plano de ação, viva segundo sua nova identidade), a preocupação maior dos psicoterapeutas é favorecer a circulação dos signos sobre o modelo do livre-câmbio.: o homem são já não é o homem enraizado, mas sim "o homem que corre como um rio cujo fluxo não é travado por obstáculos mortos."
Tudo deve ser reconstruído. A alimentação, mediante a dietética ou a nutrição artificial, para ser "mais produtivo, eficaz e ter melhores performances comendo". A solidariedade, pelo trabalho social; a educação, pela 'pilotagem' dos sistemas de educação". Paralelamente, há que reordenar o ócio para dar saída aos novos produtos de consumo (espetáculos, multimídia, videogames), restaurar a fecundidade masculina danificada pela desvirilização, salvar a democracia ameaçada pela televisão.
A feminista americana Hite interpreta como um fenômeno positivo a atual desintegração da família nuclear. Juízo que compartilha uma comadre francesa, socióloga acionalista, que quer "ajudar às mulheres a desatar-se da célula familiar tradicional, alienante". Amanhã, a paternidade será dissociada em três funções: biológica (reprodução), social (patrimonial) e psicológica (educação), cada uma das quais será objeto de remodelação técnica - respondendo assim aos desejos de Betty Friedman, que aspira a "reconstruir o ciclo da vida". A procriação medicamente assistida permitirá à mulher parir na idade da menopausa sem ter tido que sacrificar sua carreira: por fim a igualdade! Germaine Greer vai mais longe: "Meu filho - escreve - não tem necessidade de saber se sou eu sua verdadeira mãe". Será todavia seu filho, ou o da sociedade do espetáculo? Os assalariados, observava Guy Debord, "são inclusive separados de seus filhos, que antes eram a única propriedade de quem não tem nada. Lhes é arrebatado, em tenra idade, o controle dessas crianças, já convertidos em rivais, que não escutam as opiniões informes de seus pais e sorriem perante o seu flagrante fracasso: desprezam não sem razão sua origem, e se sentem mais filhos do espetáculo reinante do que desses domésticos que por azar os engendraram: sonham com ser os mestiços desses negros". (O fato de que a lei corânica ofereça um marco normativo estável para a relação entre os esposos, apartando o espectro de uma colonização tecnológica da paternidade, não é sem dúvida alheio à atração que o Islã exerce sobre um Ocidente extenuado pela guerra dos sexos).
Quanto mais se aprofunda na destruição, mais floresce o slogan da reconstrução. Como escreve um órgão mutualista, "Reconstruir a sociedade é lutar", quer dizer, mobilizar - contra a exclusão, pela igualdade de oportunidades, pelo direito à moradia, pela justiça fiscal, pela seguridade social, pela criação de emprego, pela distribuição de empregos, por serviços assistenciais, etc. Marcha forçada na direção do "desenvolvimento", que se assemelha cada vez mais a aspereza e ceticismo a medida que progride. Faz-se assim preciso manter um exército de assalariados para curar os mutilados da guerra econômica e aos aleijados pelo progresso.
Ao considerar o ente como objeto disponível para seu emprego, a técnica moderna, segundo explica Heidegger, termina inevitavelmente concebendo o indivíduo como um material de construção - um recurso humano. Tal engolimento do homem se refrata na competição, na arte ou na filosofia. Há vinte anos, Jean-Marie Brohm descrevia já o esporte como " matematização permanente do corpo humano e de suas capacidade"; o laboratório ou a organicidade natural se submetem à artificialidade técnica para fabricar uma máquina humana eficaz. Esse era precisamente o motor que movia a Andy Warhol, segundo confessava o próprio maestro da Factory: "O que me incita a pintar desse modo é que desejo ser uma máquina, e tenho a impressão de que tudo que faça como uma máquina, será o que quero fazer". O performer australiano Sterlac expressa indubitavelmetne esta pretensão ao pôr em cena uma simbiose entre o humano e a técnica: "A nova perspectiva - explica - é que o corpo pode ser colonizado por organismos sintéticos". E inclusive o desenho antropomorfo lhe parece obsoleto: "Já não há nem homem nem natureza, mas sim unicamente um processo que produz o um no outro e conecta as máquinas - explicam Deleuze e Guattari - : eu e não-eu, exterior e interior, são termos que já não querem dizer nada".
"Tudo começou com esta frase de campo de concentração -protesta o poeta ginebrino Chappaz - este edito dos ministros (ministros das futuras fomes e prostituições): sobram um milhão de camponeses na Europa". O trabalho de modernização consiste, em efeito, na destruição deliberada das relações específicas com o mundo, com o próximo e com si mesmo que os povos haviam instaurado, e em sua substituição por tecnologias industriais, produtos culturais e próteses psicológicas padronizadas. Trata-se de promover um cosmos objetivado, de congelar a maravilhosa abundância do universo omde sempre acaba germinando alguma metafísica suspeita, de assignar ao último homem "um mundo distinto ao da vida, da natureza e da história". E ao final, é a própria cultura a que, ao invés de fundar e ordenar o econômico, converte-se em sua criada e em seu brinquedo: "O Ocidente inventou um estranho sistema onde a economia não está emoldurada nas relações sociais, mas sim que são as relações sociais que estão emolduradas na economia. As outras civilizações haviam evitado cuidadosamente essa inversão. Porém este sistema, ao ser fundamentalmente irracional, não pode durar muito mais tempo".
Hoje, a expansão indefinida da categoria trabalho e a concomitante tecnificação do mundo estão cevando a decomposição da sociedade salarial. Por uma parte, sua própria inflação termina por dissolver a noção mesma de trabalho, com as conseqüências de que a distribuição do emprego assalariado parece arbitrário, a distinção entre desempregados e remunarados parece sem fundamento, e a hierarquia dos salários resulta ilegítima, assim como os estatutos que levam consigo. Por outra parte, a relação salarial tramada em torno à classe trabalhadora se beneficiou de um legado onde a tradição provia ainda um mínimo vínculo social através da gratuidade das prestações domésticas. Porém o impulso da sociedade mercantil vem a desagragar até tal ponto a socialidade, que não consegue financiar sua reconstrução total pelo trabalho, e o sistema vacia sob o peso da uma carga tão gigantesca.
"O que temos perante nós - profetizava Hanna Arendt - é a perspectiva de uma sociedade de trabalhadores sem trabalho, quer dizer, privados da única atividade que lhes resta. Não se pode imaginar nada pior". A previsão parece exata - e o termo, justificado - salvo em um ponto: não vai ser o trabalho, mas sim o salário que vai faltar cada vez mais. E essa crise do sistema salarial vai deixar um número crescente de homens vagando em meio às ruínas.
Tradução por Raphael Machado
00:05 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, travail, ergonomie, sociologie, travail informatique, ère informatique, informatique, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 22 septembre 2010
De la flexibilité du travail en Europe
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986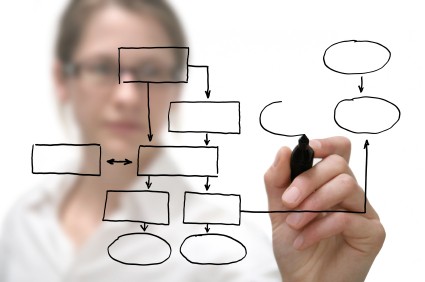
De la flexibilité du travail en Europe
Au cœur du débat politique au-jourd'hui en Europe: la question de la flexibilité . Pour les libéraux, c'est la panacée salvatrice, qui va nous faire quitter les sables mouvants de la crise. Pour les syndicats et les socialistes, c'est le "Grand Satan". Bref, dans cette opposition doctrinale, les "libéraux" se donnent le masque de l'innovation et les socialistes apparaissent comme des conservateurs frileux. Et, globalement, le dilemme mène à l'impasse. Un groupe d'économistes de la FERE (Fédération Européenne de Recherches Economiques) a choisi une approche différente: celle de la régulation , combinant approche historique (une urgente nécessité) et analyse institutionnelle (pour éviter les pièges tendus par les utopies universalistes).
Au schématisme en vogue dans les arènes politiciennes répond, enfin, une approche nuancée, tenant compte des facteurs historiques et des modes nationaux de gestion du politique. Cette réponse nouvelle permet d'échapper à l'euro-pessimisme qui vise à faire accroire que l'Europe est irrémédiablement condamnée à cause de la rigidité de ses structures socio-économiques, à moins qu'in extremis, elle n'adopte le modèle reaganien et ne saborde ses réseaux de solidarité. Pour Robert BOYER, coordinateur de la FERE, et ses collègues européens, l'Europe peut parfaitement se donner une flexibilité propre, différente de la "flexibilité" néo-libérale des reaganomics, peut ainsi moderniser les secteurs-clefs de son industrie et conserver et maintenir ses réseaux de solidarité sociale. En clair, ce que proposent les économistes de la FERE, c'est un néo-bismarckisme socialiste, seule réponse satisfaisante au néo-libéralisme a-social. Pour reprendre le vocabulaire inauguré par ces universitaires, il s'agit de mettre au point, de concert avec les instances de représentation syndicale, une flexibilité offensive, pour répondre aux défis sans précédent qu'enregistre actuellement l'Europe.
Quels sont ces défis et comment la flexibilité offensive pourra y répondre? D'abord, envisageons les défis: 1) Depuis 1973, année de la première crise pétrolière, le chômage de masse, et corrélativement les inégalités sociales, n'ont cessé de croître. Si, en 1960 et en 1973, la CEE comptait 2,5 % de chômeurs, elle en compte 10,2 % aujourd'hui. Aux Etats-Unis, la progression a été de 5,5 % (1960), à 4,9 % (1973) et à 7,2 % (1985). Au Japon, on est modestement passé de 1,7 % (1960) à 1,3 % (1973) et à 2,5 % (1985).
2) Le deuxième défi, ce sont la lenteur et les difficultés des reconversions industrielles qui remettent en question la place internationale de notre continent. En effet, la spécialisation de l'Europe consiste surtout en "vieilles industries" qui exigent de lourds financements publics. De ce fait, il manque alors des fonds pour lancer des secteurs porteurs d'avenir. L'Europe perd du terrain face à son concurrent japonais, qui enregistre lui des percées spectaculaires dans les domaines de la haute technologie.
3) Le troisième défi, ce sont les politiques étroitement nationales, celles du chacun pour soi. Les Européens ont travaillé dans la dispersion et provoqué l'apparition d'une concurrence intra-européenne, non basée sur les principes du protectionnisme (ce qu'interdit le Traité de Rome) mais sur des modulations "nationales" de la flexibilité du rapport salarial, mesures destinées à faire face au Japon mais qui entraînent aussi, sans doute involontairement, des divergences d'intérêts et de stratégie entre Européens. Cette hétérogénéité fractionne l'Europe qui, face à des blocs de plus de 100 ou 200 millions de producteurs/consommateurs, n'offre plus que des résistances dérisoires, à l'échelle du "petit nationalisme". Il n'y a pas de vision continentale et cohérente, en Europe, dans les domaines de l'économie et des politiques sociales.
Ce "petit nationalisme", qui agit dans le Concert international comme agit l'esprit de clocher au sein des Etats-Nations, engendre précisément cet euro-pessimisme qui qualifie notre Europe de continent englouti, de nouvelle Atlantide, incapable de s'adapter à la marche du monde et aux innovations technologi- ques. Pour échapper à ce pessimisme qui fige les volontés, il convient préalablement de dresser le bilan des faiblesses réelles de l'Europe et de ses forces potentielles.
Les deux autres blocs de l'OCDE (E.U., Japon) connaissent une évolution bien différente et plus encourageante que celle de l'Europe. Les Etats-Unis connaissent une phase fortement extensive, avec création d'emplois mais productivité stagnante, ce qui engendrera des problèmes à moyen terme. Le Japon vit toujours à l'heure du cercle vertueux (productivité, compétitivité, emplois). Grâce à leur productivité, et contrairement aux Américains, les Japonais créent de l'emploi, augmentent leurs salaires et maintiennent leur rythme de croissance. L'Europe, elle, connaît des gains de productivité mais ceux-ci n'assurent pas notre compétitivité, et, ipso facto, suscitent le chômage. La création des emplois tertiaires ne suit pas le rythme préoccupant de la désindustrialisation. Bref, disent BOYER et ses collègues, la dynamique fordienne (de production et de consommation de masse) est enrayée, sans que les petits mondes politiciens soient capables d'apporter des substituts crédibles et acceptables par l'ensemble de la population.
Voilà pour les raisons légitimes d'être euro-pessimiste. Mais l'objectivité oblige à reconnaître les limites des modèles américain et japonais. La reprise américaine demeure fragile, la productivité n'augmente pas dans des proportions satisfaisantes et la surévaluation du dollar (de 1979 à 1985) a détruit des pans entiers de l'industrie américaine, ce qui a obligé les Etats-Unis à importer des quantités considérables de biens. Malgré les performances brillantes de la recherche, les Américains n'ont pas su commercialiser leurs découvertes de manière optimale. Quant au Japon Superstar, il dépend trop de l'ouverture des frontières à ses marchandises et un éventuel retour du protectionnisme, aux Etats-Unis ou en Europe, le menace comme une épée de Damoclès.
Conséquence: il faut valoriser les atouts de l'Europe. D'abord, la productivité, qui, en Europe, a dépassé les niveaux américains depuis 1979!! Mais cette réussite est jugulée par l'absence de cohérence en matière de recherche. L'Europe demeure tristement avare pour ses chercheurs. Les parts du PNB réservées à la recherche restent moindres en Europe qu'aux Etats-Unis et au Japon. De plus, cette recherche n'est pas liée à l'activité industrielle réelle. Le patronat européen et les clowns politiciens qui animent les vaudevilles parlementaires, refusent toujours de se soumettre à l'intelligence technique. La FERE suggère une relecture de SCHUMPETER, pour qui la sortie des crises s'opérait par "révolutions technologiques" et, corrélativement, par diminution du pouvoir politique des classes oisives (aristocratie, militaires, avocats, clergés parasitaires, rentiers, industriels sans formation d'ingénieur, etc.) au profit des classes productrices et créatrices (ingénieurs, ouvriers des secteurs de pointes, concepteurs, enseignants, médecins, etc.).
Ce démarrage problématique de l'Europe, qui paie drôlement cher le pouvoir qu'elle laisse aux classes oisives, la met dans une situation plus que critique. Elle est battue, dans la guerre économique et dans l'affrontement pour la maîtrise des nouvelles technologies, par les Etats-Unis et le Japon. De ce fait, ses avantages risquent de ne plus se mesurer que par rapport aux pays plus pauvres, qui, devenant parfois Nouveaux Pays Industrialisés (NPI), se mettent à leur tour à la concurrencer. D'où le risque de voir s'implanter des "zones franches" en Europe comme dans le Sud-Est asiatique, précisément pour concurrencer les productions de cette région. THATCHER a tenté le coup en Ecosse et des voix se sont élevées en Belgique (DELAHAYE et VERHOFSTADT) pour pratiquer une telle politique de démission nationale. Heureusement, ces pitreries d'avocats politiciens sont restées lettre morte...
Mais l'Europe peut jouer le rôle de David face aux Goliaths. Elle peut transformer ses faiblesses en leviers d'une construction européenne. C'est ce que BOYER et ses collègues appellent "l'art du judoka". Comme Carl SCHMITT qui déplorait la disparition du "jus publicum europaeum" et souhaitait le rétablir, BOYER et alii veulent "promouvoir un espace social euro- péen". Dans ce cadre, finalement conforme aux principes de la géopoliti- que, les Etats renonceraient aux recours à la flexibilité défensive, qui réduit les salaires sans rien résoudre, pour passer à une flexibilité offensive, en suivant trois autres axes: recomposition des dyna- miques régionales, création d'une véritable Europe industrielle et technologique, constitution d'une vraie politique économique com- mune.
Le premier axe, implique une décentralisation intelligente, capable de générer des complémentarités à l'échelle continentale. Le second axe implique, selon le modèle suédois de politique industrielle (Cf. Orientations n°5 et Vouloir n°27), de générer un haut niveau de vie (avec croissance démogra- phique; ce que la Suède n'a pas trop réussi) grâce à des structures de production efficaces capables de résister à la concurrence internationale. Ce qui implique, deuxième axe, de consacrer des fonds publics importants aux secteurs de pointe (projets Eureka, Esprit, etc.), en dépit des groupes de pression qui veulent maintenir les subventions aux secteurs vieillis. Mais, une telle politique requiert la formation des travailleurs, donc une revalorisation de l'enseignement qui ne s'adresserait plus aux seuls enfants et adolescents, mais engloberait la moitié ou plus de la population adulte. Le degré de discipline sociale devra augmenter. La lutte contre le chômage passe par cette nécessité et par cette volonté de se former sans cesse. Le "New Deal" européen de demain impliquera sans doute une coopération (et non une compétition) sociale-darwinienne au sein des sociétés européennes, pour permettre à notre continent de gagner son struggle for life contre les Etats-Unis et le Japon. Ce faisceau de projets constitue ce que les auteurs de la FERE appellent la flexibilité offensive, intention politique bien plus prometteuse que l'actuelle flexibilité défensive, contraignante, a-sociale et anti-politique des conservateurs thatchériens et des obscurantistes libéraux . Enfin, l'œuvre des économistes de la FERE renoue avec les grands principes économiques, qu'envers et contre toutes les modes, nous n'avons jamais cessé de défendre dans ces colonnes: FICHTE, LIST, RODBERTUS, SCHMOLLER, SCHUMPETER (1).
Gilles TEGELBECKERS.
Sous la direction de Robert BOYER, La flexibilité du travail en Europe, Editions La Découverte, Paris, 331 pages, 175 FF.
(1) Cf. Orientations n°5, textes de Guillaume FAYE, Thierry MUDRY et Robert STEUCKERS. Cf. également, Contre l'économisme de G. FAYE (service librairie).
00:05 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, travail, ergonomie, sociologie, philosophie, politique, sciences politiques, politologie, théorie politique, flexibilité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


